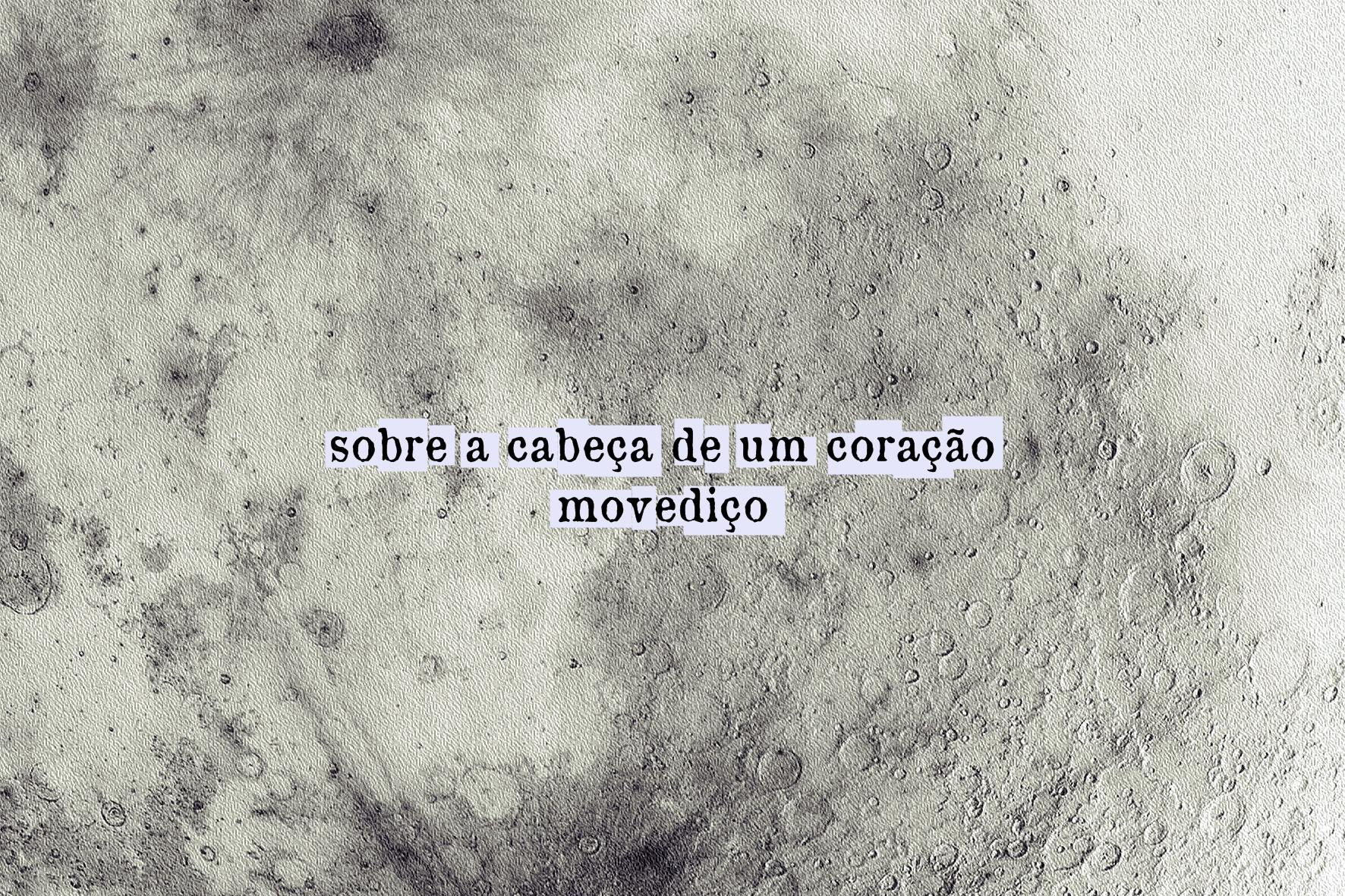novembro de 2018
RETRATOS SIDERAIS OU DESDE QUANDO ME VEJO DENTRO DE MIM
Redação
Com trabalhos recentemente exibidos na Mostra de Criadoras em Moda: Mulheres Afro-latinas (2016), no livro São Paulo em Imagens (2018) e atualmente em cartaz na exposição coletiva Fotopreta (2018), em São Paulo, a artista visual e escritora paulistana Daisy Serena apresenta com exclusividade à revista O Menelick 2º Ato parte da sua nova produção, a série Retratos Siderais. “Este projeto não vislumbra ainda um ponto final, é obra em processo, fora e dentro do que pulsa meu peito”, costuma dizer a artista.
Aos 30 anos e com uma produção visual que ainda reverbera e se conecta densamente com a avalanche de transformações internas por qual passou entre os anos de 2013 e 2016, “(foi) quando comecei a me reconhecer como uma mulher negra – não mais, moreninha, mulata – quando fui ler bell hooks e Audre Lorde. (…) foi como se um tufão tivesse me tomado a terra”, Daisy conta em entrevista um pouco da sua trajetória, referências, inspirações e seu encontro com a estética afrofuturista.
…
O MENELICK 2º ATO: O que são os “Retratos Siderais”?
DAISY SERENA: Os Retratos Siderais nascem a partir de uma estética afrofuturista onde pude unir múltiplas paixões de linguagens: fotografia, colagem, poesia e vídeo. Para além, todos meus projetos pessoais tem uma pesquisa persistente: unir nestas confluências artísticas que me habitam e inquietam, pessoas que admiro e me afetam com suas subjetividades, linguagens e corpos políticos no mundo.
Dentro desse universo, o que tem me convocado cotidianamente para os retratos siderais são mulheres com quem partilho, observo e me pertenço. É também uma construção narrativa desse lugar político de registrar artística e historicamente pessoas pretas. Entrelaçar-nos nessa fenda-tempo do presente, futuro, passado cosmo-tecnológico que é o afrofuturismo.
Por isso os retratos siderais também se mesclam com figuras importantes dentro das nossas cosmologias africanas, afro-brasileiras, afro-latinas, como: Hat-Mehit (deusa do Baixo Egito, “a que está à frente dos peixes”), Ma’at (deusa egípcia da justiça, aquela que pesa o coração do homem contra o peso de sua pena), Kianda (senhoras das águas de Angola), Mama Quilla (deusa inca da lua), Mama Cocha (deusa inca das águas), Mama Aara (deusa dos milhos, principal alimento dos incas) e tantas outras que ainda estou (re)descobrindo e que a história hegemônica foi apagando de nossas construções.
Portanto, este projeto não vislumbra ainda um ponto final, é obra em processo, fora e dentro do que pulsa meu peito.
OM2ATO: Conte um pouco sobre você, a sua descoberta enquanto artista, sua relação com a cidade de SP.
DS: Não acredito que tive uma descoberta como artista, desde muito pequena as artes estão muito inerentes em mim. Escrevia longas histórias com oito, nove anos, e pedia pra gravar as viagens com a câmera dos meus pais. Sempre tive uma certeza de que minha possibilidade de ofício era em uma área artística, mas não sabia o que isso significava. Até os dezoito anos só me via como escritora ou como atriz, pela minha facilidade com as letras e também pela aproximação com o teatro, primeiro na escola, depois em cursos fora. Mas acabei ficando um tempo apenas escrevendo como “hobbie”, pois comecei a trabalhar, fazer o curso técnico e já não via como próxima a possibilidade de ser artista.

O fato de ter crescido em uma cidade do interior – São José dos Campos – com muitas fábricas – como a Embraer e a GM – e do meu pai ter uma formação muito voltada para as exatas, acabou me afastando por alguns anos das artes como profissão. Foi ao fazer um ano do curdo de Jornalismo que a fotografia começou a se emaranhar com força em mim. Eu já era cinéfila e sempre enfiada nas literaturas, então quando vi um documentário sobre Caravaggio em uma aula da história da arte, e ouvi o professor de fotografia contando que quando via uma imagem que ele precisava registrar, ele parava o carro onde fosse e registrava, algo em mim foi tocado profundamente, com luzes e sombras pontuais. Comecei a brincar mais com uma kodakzinha que tinha ganho de presente do meu pai, mas nada muito além de experimentações. Foi ao mudar para São Paulo, com 23 anos (nasci aqui, no Largo do Socorro) para começar a graduação de Sociologia e Política, que outras possibilidades começaram a surgir. Primeiro por fazer parte, e depois presidir, o Cineclube Darcy Ribeiro, depois por ter sido assistente de pesquisa de um professor querido da Fiocruz, por quem descobri o fotógrafo Benedito Junqueira Duarte. A partir daí sempre quis unir a pesquisa acadêmica com o cinema ou a fotografia, não só como ferramentas, mas que fossem também objetos, sujeitos.
“Sinto que com essas experiências somadas, a de ser uma mulher adotada, de ser uma mulher que se descobriu negra, afrodescendente, com 25 anos; vivo em uma constante busca cartográfica para montar uma galáxia – e não uma árvore genealógica – que me dê as múltiplas cosmologias enquanto ser feminino preta. Por isso quero saber quem são as senhoras da terra, e das magias, nas Américas Latinas e nas Áfricas”.
Mas realmente as coisas começaram se transformar quando participei da relatoria de um projeto da Secretaria Municipal para Igualde Racial, na metade da minha graduação. Foi quando comecei a me reconhecer como uma mulher negra – não mais, moreninha, mulata – quando fui ler bell hooks e Audre Lorde. Isso foi em 2013. Desse ano até o ano de 2016, foi como se um tufão tivesse me tomado a terra. Um universo enegrecido começou a surgir em camadas doloridas, também belas e todas potentes. Ao mesmo tempo comecei a trabalhar mais com fotografia, apesar de não saber direito o que fazer com essa “nova” identidade e com a imagem. Descobri Zanele Muholi, a Menelick, Conceição Evaristo, Miriam Alves, Ana Paula Tavares e toda uma Angola que foi (e é) primordial para meu entendimento de mulher negra artista – embora prefira “ativista visual” como Muholi – afro latina diaspórica.
Talvez a primeira vez que eu tenha me chamado de artista tenha sido ano passado ou esse: artista visual. Pois escritora eu já havia conseguido dizer em 2016, quando lancei meu primeiro livro (pela Padê Editorial – editora independente de mulheres negras e pessoas LGBT, das poetas Tatiana Nascimento e Bárbara Esmenia). Creio que conseguir dizer também tenha a ver, pra mim, com a materialidade da produção. No sentido de que me dizer ativista visual faz sentido não só (embora também) por ser uma fotógrafa negra que preza por retratar um cenário preto, mas também a atos de pessoas pretas, como a Marcha das Mulheres Negras. Me dizer artista visual veio quando a minha fotografia só não me foi suficiente e precisei entremeá-la nas outras linguagens artísticas que me fazem sentido: a poesia, a colagem, o vídeo.
Nesse meio tempo de oito anos em São Paulo me reaproximei do teatro, integrei por três anos o coletivo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, pude fotografar não só nossas peças como a de vários parceiros. Também me aproximei de artistas pretas e pretos múltiplos que definiram muito do que é minha linguagem visual hoje, como ao registrar os espetáculos do malungo Renato Gama, as danças da mana Luciane Ramos, fazer still para a querida cineasta Renata Martins. Estar em diversas linguagens com a minha imagem me colocou num campo de atuação amplo dentro das artes, como fotógrafa, e efervescente como artista visual.
OM2ATO: Participa de organizações ou coletivos na cidade?
DS: Hoje faço parte de um núcleo de pesquisa artística que integra o Coletivo Dolores, esporadicamente colaboro feliz com as meninas da web-série Empoderadas, e tenho conversado aproximações com outras fotógrafas e fotógrafos pretos, para outros projetos.
OM2ATO: Como as forças femininas, em especial da mulher negra, agem no seu processo de compreensão de si, assim como influenciam a sua criação artística?
DS: Talvez seja me repetir, mas me descobrir uma mulher negra e junto com isso abrir os olhos, ouvidos e sentires para um universo de mulheres negras que eu não fazia a menor ideia de que eram meu espelho, meu passado, minhas contemporâneas, meu futuro, minha tecnologia, afetou completamente meu modo de estar nesse mundo. Pude unir tudo isso à força que eu já carregava de minha mãe, uma mulher que me adotou muito bebê, com muito amor, que criou uma menina negra da melhor maneira que ela pôde.
Sinto que com essas experiências somadas, a de ser uma mulher adotada, de ser uma mulher que se descobriu negra, afrodescendente, com 25 anos; vivo em uma constante busca cartográfica para montar uma galáxia – e não uma árvore genealógica – que me dê as múltiplas cosmologias enquanto ser feminino preta. Por isso quero saber quem são as senhoras da terra, e das magias, nas Américas Latinas e nas Áfricas.
Agora, soma-se a isso um movimento contínuo recente de estar me descobrindo mãe, estou me gestando junto com essa cria, eu uma nova mulher negra que ainda não conheço. Nova afetação na minha compreensão de mim e nas minhas criações.