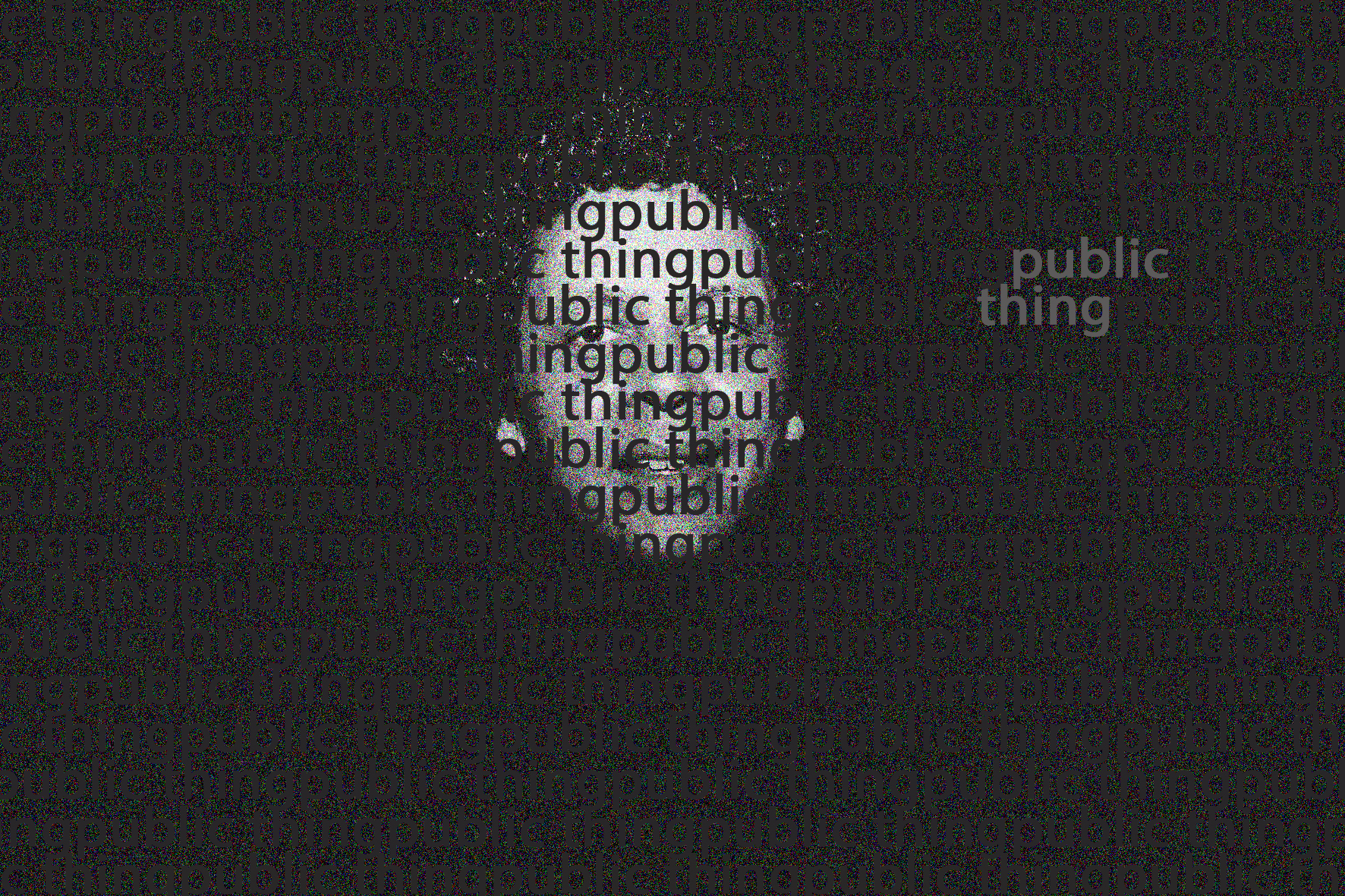outubro de 2023
ALEXANDRE ARAUJO BISPO: NEM PROSA, NEM VERSO. UM ROMANCE FAMILIAR OU, TODO MUNDO PRA RUA AUMENTAR O SOM!
Nabor Jr.
capa MANDELACREW
fotos claudia melo
agradecimento especial espaço8 casa cultural
Ainda carrego na memória – essa ilha de edição analógica que vira e mexe nos confunde e nos trai, mas sem a qual seria impossível recuperar informações que nos permitem seguir adiante – uma vaga lembrança do dia em que conheci o hoje antropólogo, cientista social, crítico de arte, curador e pesquisador Alexandre Araujo Bispo. Foi entre o final de 2009 e o primeiro semestre de 2010, e se por um lado os detalhes daquele encontro cuja data exata minha memória involuntariamente deletou, por outro, deixou vestígios que ainda hoje estão na minha retina. Na ocasião, recordo-me que havia agendado um encontro com um pequeno grupo de colegas jornalistas, artistas e outros/as que de alguma maneira estavam envolvidos com a prática cultural na cidade de São Paulo, para lhes informar sobre as minhas intenções com o projeto da revista O Menelick 2Ato: transformar o blog que vinha editando desde 2007 em uma revista física, impressa, com distribuição gratuita e periodicidade mensal. Minha intenção, na verdade, era convencê-los a se associarem como colaboradores da empreitada. Foi por isso que organizei uma reunião na comedoria do SESC Ipiranga a fim de compartilhar o modus operandi que viabilizaria a engenharia editorial que planejava.
Bispo era amigo de uma antiga colega que convidei para a reunião, alguém que anos depois se tornaria uma competente produtora cultural, e que naqueles idos era muito próxima a mim. Sabendo que os interesses intelectuais de Bispo, em parte, dialogavam com as intenções embrionárias da publicação, ela resolveu convidá-lo para a reunião daquela noite. E de fato ele se mostrou muito interessado na proposta. O tempo passou e nos tornamos amigos. Como seu editor – por mais que essa posição hierárquica não refletisse de fato a relação de trocas mútuas que construímos – tive o privilégio de ler, comentar e diagramar seus textos e, acima de tudo, ser introduzido a nomes das artes plásticas de autoria negra no Brasil que até então desconhecia. Sua participação na revista amadureceu consideravelmente o claudicante projeto inicial da publicação, à medida que ele, paralelamente as suas colaborações, também foi criando um repertório intelectual cada vez mais denso. Em pouco tempo, ao lado da artista plástica, curadora, produtora cultural e professora Renata Felinto – que pouco tempo depois da chegada de Bispo também passaria a integrar o projeto – eles inseriram, a partir de suas já proeminentes trajetórias, a revista na agenda das iniciativas pretas da cidade de São Paulo que deveriam ser vistas com atenção entre aqueles que compartilhavam algum interesse pelas artes visuais. Não por acaso, o tenho como um mentor. Um querido consigliere (sic). Admiro também a originalidade do seu pensamento crítico, responsável por emprestar densidade atemporal as suas construções textuais. Acredito não estar sozinho nessa avaliação, já que seus inúmeros textos (inclusive os mais antigos), especialmente os que refletem sobre a produção artística contemporânea negra no Brasil, não raramente são veiculados em respeitáveis publicações do gênero tanto dentro, como fora do Brasil, bem como são referenciados para o estudo desta vibrante cena que vive um momento de inflexão neste início de século XXI no país. Alexandre Bispo, vale ressaltar, não é um corpo solitário entre os intelectuais e pesquisadores negros que refletem sobre as artes de autoria negra no Brasil, muito pelo contrário. Mas é importante, contudo, sublinhar a relevância do seu pensamento elástico para a manutenção e/ou pavimentação do pensamento crítico envolvendo a produção artística a qual se detém.
Socialmente discreto, mas com um senso de humor muito peculiar e inteligente, que por vezes revela seu interesse meio desapegado as frivolidades do dia a dia do brasileiro, Bispo vive hoje em intensa dedicação a vida intelectual e acadêmica, e recentemente vinculou-se a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Bispo, na verdade, faz parte de um seleto grupo de pensadores negros brasileiros, cada vez mais robusto e de valor crítico incontornável, composto por pessoas cuja produção intelectual criativa e transversal, empresta imensurável valor as mais variadas questões do nosso tempo e espaço.
Agendar essa conversa com ele, que desde meados de 2016 se afastou do cotidiano da revista, para além de poder encontrá-lo pessoalmente depois de um longo tempo, foi também uma oportunidade de ouvi-lo na privilegiada condição de entrevistador. O gatilho da nossa conversa foi a edificação da recente exposição coletiva Romance Familiar, apresentada a no Espaço8 Casa de Cultura, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, entre os últimos dias 6 de maio e 4 de junho de 2023, e da qual ele foi curador. Nosso encontro se deu em uma ensolarada e agradável tarde de sábado, no interior da própria exposição, relativamente próximos ao local em que nos conhecemos pessoalmente anos atrás. Ao longo da nossa conversa, ao passo que ele contextualizava a mostra, traçava um breve perfil dos artistas convidados, detalhava suas escolhas expográficas e os caminhos percorridos para buscar um diálogo entre as obras e o espaço expositivo (um aconchegante sobrado do século XX adaptado como uma galeria de artes), Bispo também trazia a tona outra característica marcante da sua personalidade: seu posicionamento cortante, sua fala por vezes ácida – que beira a denúncia – mas que não se furta em dizer sem rodeios o que, para ele, deve ser dito. Uma entrevista longa, mas fluída, que revela o pensamento fértil desse importante pesquisador e entusiasta das artes negras brasileiras, socialmente comprometido com a construção de um amanhã que não traga o hoje.
…
Alexandre Bispo (à direita) durante a montagem da exposição Romance Familiar
OMENELICK2ATO: Para iniciar a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco sobre a proposta curatorial da exposição Romance Familiar.
ALEXANDRE ARAUJO BISPO: Romance Familiar é uma expressão emprestada do (Sigmund) Freud, dita ali mais ou menos entre os anos de 1909 e 1910, quando Freud escreve um texto para uma revista acadêmica da área de psicanálise, psiquiatria e tal… e onde ele formula essa noção de romance familiar. Fundamentalmente seria a ideia de uma família substitutiva da família real que nós temos. Então, Freud vai dizer que fantasistas somos todos nós, que fantasiamos. Quer dizer, todos nós seres humanos por essa perspectiva do Freud. Para ele, a criança, diante de certas situações conflituosas dentro da família, podia fantasiar uma família ideal em substituição a sua família real. Tem uma psicanalista norte-americana chamada Ethel Person – já falecida – que tem um livro muito interessante que eu indico pra muita gente, chamado Poder da fantasia – Como construímos nossas vidas, em que ela vai trabalhar com a noção de fantasia do Freud, e mostrar como essa noção não foi totalmente desenvolvida tanto pelo próprio Freud, como por muitos outros psicanalistas que não tiveram interesse em aprofunda-se nessa noção. Quer dizer, a noção de fantasia no sentido ampliado. O romance familiar é um tipo de fantasia, uma fantasia substituidora. Porque há diferentes tipos de fantasia. Por exemplo: tem fantasias compartilhadas – isso a gente vê muita na arte e na cultura. Quando vamos ver um filme como o Bacurau, por exemplo, a gente, de alguma maneira, se sente contemplado com as atitudes daquelas personagens e a gente pode ver ali uma fantasia compartilhada. A gente compartilha com aquelas personagens algumas atitudes. Atitudes políticas, de revolta, por exemplo. Então o campo das artes ajuda a gente a compartilhar fantasias. O romance familiar já é uma fantasia. Pelo que eu entendo até agora, já que não sou um grande leitor de psicanálise, o romance familiar compreende um tipo de fantasia ligada ao sujeito dentro da família. A criança que diante de certas situações dramáticas, idealiza para si um mundo outro que não aquele na família. Um mundo com uma outra família, a família ideal, e não aquela original. A Ethel Person dá um exemplo no livro dela de uma criança em que mãe falava para ela constantemente que iria colocá-la num orfanato. Isso é um adulto relatando para a psicanalista. Ele, já adulto, lembrando de uma experiência que ele teve como criança de romance familiar, de conflito com a mãe. E a mãe então promete que vai colocá-lo num orfanato, e ele, a princípio fantasia o orfanato. E ele tem medo do orfanato. E na fantasia dele, ele se aproxima do orfanato e vê um monte de meninos sentados em torno de uma mesa, ele tem medo daqueles meninos inicialmente, mas depois ele vê banana e sorvete sobre a mesa. Ou seja, que aqueles meninos estão comendo banana e tomando sorvete. E quando ele vê essa imagem da mesa e das crianças, a imagem do orfanato como lugar hostil, já passa a ser um lugar mais acolhedor do que a convivência direta com a mãe. Então o orfanato serve para substituir a experiência dele de fato. Na vida adulta, esse menino, vai nos dizer Ethel Person, por ter tido muito gasto com o romance familiar, quer dizer, por ter fantasiado muito uma outra família, vai escolher mesmo uma família substitutiva. Ele vai se identificar com a família de um amigo, e ele vai ser de alguma maneira adotado por aquela família. Então, ele vai se identificar muito mais com os pais daquela família como pais dele do que os pais dele de fato.
Visão panorâmica de uma das salas da exposição Romance Familiar
Eu descobri essa ideia de romance familiar em 2016, lendo o livro A união faz a força, de uma colega chamada Reimy Solange Chagas, que é uma psicanalista e que me procurou no Centro Cultural São Paulo para ver como ela conseguiria lançar aquele livro no CCSP. Na ocasião, eu comprei um livro dela e pedi que ela doasse um ou dois exemplares para a biblioteca do CCSP. Trata-se de um livro sobre mitos familiares em famílias negras, onde ela analisa uma série de mitos, medos e silêncios familiares. A família tem muito disso, qualquer família. E ela analisa isso especificamente em três famílias negras, analisando fenômenos e fantasias que são transmitidas entre gerações. Num dado momento do livro, ela comenta sobre o romance familiar, do Freud. Então, a partir desse livro dela eu chego a essa noção de romance familiar, depois eu leio o livro da Ethel Person, e vou pro texto do Freud também, que é muito interessante. E conversando com a artista Fernanda Lago – proprietária do Espaço8 Casa Cultural – sobre essa possibilidade de conseguir uma agenda na casa, eu comecei a pensar melhor qual tema eu gostaria de tratar. E tem vários temas que eu gosto, um deles é a família, de modo geral, e a família negra de modo mais particular. Até porque a minha pesquisa de doutorado é sobre a documentação de uma família negra. Então, recuperei essa ideia do Freud de romance familiar, ou seja a ideia de uma grande fantasia substituidora e convidei artistas que trabalham com o universo da família. Eu estou aqui falando de família de maneira muito ampliada, quer dizer, pouco importa o arranjo da família. Se a família é homoafetiva, heteroafetiva, se a família é constituída de avôs e netos, não tem mais a figura dos pais… não importa muito se ela é homoparental, enfim, não importa qual é o formato dela. Ocorre que dentro das famílias, a fantasia de um romance familiar acontece. Pode não acontecer com muita gente, mas acontece com muitas outras.
“O romance familiar é um tipo de fantasia, uma fantasia substituidora. (…) Então, recuperei essa ideia do Freud de romance familiar e convidei artistas que trabalham com o universo da família. (…) e pouco importa o arranjo da família. Se a família é homoafetiva, heteroafetiva, se a família é constituída de avôs e netos, não tem mais a figura dos pais… se ela é homoparental, enfim”.
Alguns dos artistas que estão na exposição eu já sabia que tratavam da família em suas obras, ainda que não do romance familiar. Como o Moisés Patrício, por exemplo. Que tanto tem tratado da família como arranjo cosanguíneo, ainda da tal família biológica, para usar um termo mais comum. E o mesmo Moisés tanto aborda isso, como também aborda – e aí eu acho que é bem importante a contribuição dele – a família de santo, a família organizada no interior do candomblé. Que é uma espécie de família ideal, porque não é aquela família que você tem vínculos de sangue, você tem vínculos de afeto. Temos a artista Lídia Lisboa, cujo trabalho que está na exposição chama-se “Ovário”. E a gente sabe que a vida não tem início exclusivamente na mulher, a vida é um fenômeno de reprodução constante. A princípio é a combinação de materiais de mulher e materiais de homem que geram as vidas que a gente conhece. Então eu fui atrás desses artistas que eu já conhecia. O Alexandre Alves Ignácio, por exemplo, eu já conhecia e sabia que essa poética está dentro do trabalho dele. Os três artistas da Galeria Diáspora – o Ramo Negro, Marcel Diogo e o Lucas Soares – são todos artistas trabalhando nesse universo da família. Então, o que eu percebi também foi que, se o romance familiar não está ilustrado nessas obras, até porque a intenção da exposição não era de pegar o conceito e selecionar artistas para ilustrar esse conceito, a família está presente em todas as obras. Então, há obras que discutem o casamento, por exemplo, no caso de uma artista chamada Isa Bandeira, que fez a expografia da exposição também. Os trabalhos da Síssi Fonseca e do Hugo Fortes, o tema também é o casamento. Quer dizer, eu também busquei artistas que já tratavam da família no sentido ampliado do tema.
Detalhe do processo de montagem exposição Romance Familiar
OM2ATO – Como foi voltar a fazer uma curadoria que não está exclusivamente dedicada a produção plástica de autoria negra, ou declaradamente relacionada a questões identitárias, que são características mais acentuadas tanto nas suas curadorias anteriores, como nos seus textos e pesquisas?
AAB: Estou muito interessado numa discussão que também está presente na minha tese de doutorado, que trata sobre o arquivo pessoal da família de Neri e Alice Rezende, duas mulheres negras. A questão é: quando você estuda, especialmente no pós abolição, o jornalismo negro de São Paulo, um dos temas mais caros tratados por esses jornais é a questão da integração social. E esse tema me inspira muito. Gosto muito desse debate e acho que a gente não resolveu ele de fato. Sei que alguns colegas sociólogos e antropólogos também fazem muita crítica ao texto do Florestan Fernandes sobre o problema da integração social do negro na sociedade de classes, enfim gosto muito desse tema. Porque para esse movimento, que era a imprensa negra nas décadas de 1920, 1930, 1940, esses caras estão dizendo que eles não são africanos. Eles estão dizendo que são brasileiros. Então, o tema da integração é você dizer o seguinte: “olha, sim, nós temos antepassados africanos, mas nós somos brasileiros. Nós requeremos essa cidadania aqui”. Eu penso a exposição dessa perspectiva. Eu adoto uma perspectiva integracionista complexa. Porque, como bem dizem as mulheres negras: “veja aí a quantidade de homens negros que são casados com mulheres brancas no Brasil”. Quando a gente tenta separar muito é bem complicado. E nesse sentido, sou muito partidário das reflexões do professor Muniz Sodré. Olhe para uma casa de candomblé. Você vai ver ali uma diversidade um pouco desconcertante. Pra perspectivas muito existencialistas de identidade a ideia de uma integração social é problemática. Mas para perspectivas mais mestiças, mais misturadas, o negócio é mais complicado. Porque seria muito fácil se a gente pudesse separar tudo. Na exposição eu aposto na poética dos artistas. Me interessa a arte de uma maneira muito ampliada. Quer dizer, me interessa as autorias negras, mas me interessa também as autorias brancas. Da mesma maneira que me interessa a autoria de mulheres. O tema da família, por exemplo, que a princípio poderia parecer um tema muito feminino, não é um tema exclusivamente feminino. Aliás, ao longo da história da arte a gente vai ver o quanto a imagem da família vai aparecer de muitos modos, especialmente pelas mãos dos artistas homens. O caso da imagem da mãe. O Flávio de Carvalho, por exemplo, artista brasileiro importantíssimo dessa segunda, terceira geração do modernismo, ele vai fazer uma série de desenhos da mãe dele morrendo, na cama. A mãe dele que morreu de câncer. E tem muitos outros artistas que vão fazer os retratos dos seus pais, das suas mães, dos seus filhos. Então, a família negra me interessa porque ao longo do processo de escravização da população negra, e os efeitos no mundo republicano também dessa escravização, o problema da subalternidade toda do negro, não se admitiu que o negro pudesse constituir família. Da mesma maneira que se achava que a África nada tinha. E se tem uma coisa que é abundante no continente africano é a família. Você tem, por exemplo, o modelo monogâmico na história da humanidade. Quer dizer, o modelo monogâmico não é uma construção exclusiva da Europa. Da mesma maneira que o modelo extenso não é exclusivo do continente africano. Das famílias yorubanas, por exemplo, que dão origem ao candomblé. Ou das famílias da África Central, como o Congo, Angola… Não por acaso a noção de família de santo é uma noção muito poderosa. E o que é a família de santo? Independente da sua cor de pele, ali, na sua casa de candomblé, se você tiver se encontrado naquela turma, pouco interessa de fato a cor da sua pele. O que interessa ali é o seu papel dentro daquela estrutura organizacional.
“(…) quando você estuda, especialmente no pós abolição, o jornalismo negro de São Paulo, um dos temas mais caros tratados por esses jornais é a questão da integração social. E esse tema me inspira muito. Gosto muito desse debate e acho que a gente não resolveu ele de fato. (…) para esse movimento, que era a imprensa negra paulista das décadas de 1920, 1930, 1940, esses caras estão dizendo que eles não são africanos. Eles estão dizendo que são brasileiros. Então, o tema da integração é você dizer o seguinte: ‘olha, sim, nós temos antepassados africanos, mas nós somos brasileiros. Nós requeremos essa cidadania aqui’. Eu penso a exposição dessa perspectiva”.
A única obra que nós temos inédita na exposição é uma obra do Antônio Pulquério, todas as demais já estava produzidas. Ou melhor, a obra do Alexandre Alexandrino também foi feita especialmente para a exposição, mas porque ele não tinha algumas imagens que eu havia encontrado do trabalho dele. E a obra do Antônio Pulquério é um trabalho lindo, como imagem de família também. Pensando a lógica de família como algo estratificado, do chão até o alto. A coisa vertical. E pensa, por exemplo, a lógica da família de candomblé, que é uma lógica horizontal. A hierarquia dentro do candomblé não é uma hierarquia de prédio, digamos assim. É uma hierarquia exatamente horizontal. Então, a liderança máxima dentro do culto está muito próxima também de quem está chegando, daquela pessoa que está se introduzindo dentro do culto. Está tudo na mesma roda. Então, juntar esses artistas, juntar essas obras e juntar essas poéticas, tem haver com isso mesmo. Quer dizer, quem não tem família? Quem não passou por uma família? Mesmo uma família que foi destruída muito cedo. Um dos artistas da mostra, o Marcelo Lago, por exemplo, tem um trabalho que eu acho lindo que evoca uma grande tragédia familiar. Ele perdeu os pais e a irmã de 4 anos, os pais antes dos 30 anos de idade, num acidente aéreo. E é comovente esse trabalho, pois ele mostra uma série de aviões, que se juntam, até que um deles tem a queda. É um trabalho muito interessante para se pensar a noção de romance familiar. Por que, talvez, no caso dele, dessa tragédia que engendra esse trabalho, essa família jamais poderá ser substituída. Porque se há uma família que foi divinizada, é essa família que morreu numa tragédia e deixou um filho de dois anos e meio, que se quer ainda podia ter conflito com a família. Quer dizer, desejar outra família que não fosse aquela. Então é quase uma família celeste, sagrada… e que vai seguir sagrada pra sempre. Porque ela jamais pode ser substituída. Eu comentei sobre essa obra, porque o trabalho do Alexandre Alves trás essa figura de alguém que já morreu, no caso, o pai. No mundo da família essa pessoa que morre vai ocupando também um lugar cada vez mais confuso. E as vezes divinizado. E muitas vezes nos silêncios das famílias, muitas vezes a família é incapaz de dizer, porque produz tanta dor, as vezes vergonha… Então, as vezes, um parente que se matou, por exemplo, as gerações futuras são incapazes de falar disso, porque as gerações passadas foram silenciando, silenciando… porque produziu tanta dor a morte de alguém, o suicídio, ou alguém que praticou um crime, ou alguém que fez alguma coisa muito ruim… a família vai acumulando isso, mas ela não fala. E o silêncio é parte dos mitos familiares. Então, o que eu acho legal de ver nos trabalhos é como eles são diversos, no caso do trabalho da Lídia Lisboa, por exemplo, na obra Ovários, temos uma parte do órgão reprodutor da mulher. Desde que a gente tome aqui a mulher também como essa figura reprodutora de vida, obviamente que a mulher não precisa estar limitada somente a essa dimensão da reprodução. Um trabalho do Moisés Patrício, que ele pega uns pedacinhos de papelão e vai ali enrolando a linha e criando essas muitas relações, quase que uma cadeia de DNA, que é pra pensar a família. Ou a Yara Dewachter que é uma artista que trabalha com esses materiais que nos chegam prontos do passado, no caso são peças de porcelana, de louça, enfim, e que ela coloca ali, nos casais enamorados, figuras tão delicadas, e ele coloca ali um instrumento cortante, uma tesoura que ataca o casal, de costas. A Aline Motta que fala sobre ancestralidade…
Conjunto de esculturas do artista Ramo Negro, exibidas na exposição Romance Familiar
OM2ATO – Há um exercício expográfico criativo bastante evidente no modo como a exposição ocupa o Espaço8, e digo isso com tranquilidade pois, estamos diante de um sobrado antigo transformado em um espaço cultural e que não foi adaptado para ser uma galeria de artes, por exemplo. Não que houvesse uma necessidade para isso, já que a arte contemporânea permite a ocupação de espaços diversos. De todo modo, gostaria que falasse um pouco sobre como foi construído o projeto expográfico de Romance Familiar.
AAB: Foi um processo de negociação difícil. Esse processo teve a participação fundamental da Isa Bandeira e da Bárbara Ivo, e também do Jonh, que fez a montagem. É um conjugado. Pessoalmente, gosto muito de exposições coletivas. Porque a exposição coletiva permite você ver como um tema é encarnado de várias maneiras. Você tem acesso a leituras distintas a partir de um mesmo tema. O Romance Familiar do Freud é um ponto de partida. A Isa Bandeira, aliás comenta uma coisa muito interessante quando diz assim: “Romance familiar parece um nome de novela da Janete Clair”. E parece mesmo! É um nome muito sonoro, muito agradável. Família é uma coisa, romance familiar é outra. Acontece dentro de uma família. Mas não acontece em uma família inteira. A família inteira não tem um romance familiar. Quem tem são os seus indivíduos. Quando tive a ideia inicial, eu pensava em incluir bastante artistas e muitas obras. Uma espécie daquela estética de armazém do Museu Afro Brasil, que eu gosto bastante. Algo que a gente viu também em Histórias Afro-Atlânticas. É um pouco dessa estética que diz assim: tem de tudo no armazém, você precisa mostrar tudo que tem. Histórias Afro-Atlânticas tinha esse tipo de obsessão. Em alguns momentos, pessoalmente, acho que não deu muito certo. Agora, quando você visita o Museu Afro Brasil, aquele Museu Afro Brasil onde o Emanoel Araujo com toda aquela inteligência dele construía as exposições, você vê essa estética onde tudo está iluminado. Coisas de valores muito díspares, mas muito próximas, tem valores próprios e valores de diálogo. Então foi daí que partiu o valor do nosso projeto expográfico. Quer dizer, colocar efetivamente esses trabalhos em diálogo. Foi preciso refinar o conceito já que os trabalhos não foram feitos de encomenda.
“Quando tive a ideia inicial, eu pensava em incluir bastante artistas e muitas obras. Uma espécie daquela estética de armazém do Museu Afro Brasil, que eu gosto bastante. (…) Então foi daí que partiu o valor do nosso projeto expográfico. Quer dizer, colocar efetivamente esses trabalhos em diálogo”.
Essa exposição, por exemplo, é diferente da exposição Enciclopédia Negra, onde tudo foi encomendado, tudo regulado para caber dentro de um discurso. A ideia em Romance Familiar não é essa. A ideia aqui, inclusive, é como a família tem membros que vão vazar de dentro dela. Da mesma maneira que ela tem conflitos que ela mesmo não consegue elaborar. Então isso, de alguma forma, está presente dentro da exposição. De fato, a gente tem pouco espaço físico, mas quando você vê a disposição dessa quantidade de obras – afinal, são 34 artistas, e alguns deles estão expondo mais de uma obra – eu… bom, vou falar algo que o artista Sérgio Adriano H me disse na abertura da exposição. Ele falou: “Alê, eu olho para a exposição e vejo uma galeria. Eu não vejo uma casa”. E daí eu acho que a coisa é conjunta. Eu concordo com o que ele diz, já que eu também vejo uma galeria, e não uma casa. Mas é como aquela relação de figura e fundo. Ele só vê uma galeria porque tem uma casa. E ele só sabe dessa casa porque tem uma galeria. Essa é a relação figura e fundo. Sabe quando você olha um vaso e acha que é um rosto de perfil? É isso. No momento que você olha uma coisa, a outra está ali, junto. A exposição tem um pouco disso.
Visão panorâmica de uma das salas da exposição Romance Familiar
O trabalho do artista Marcel Lago, por exemplo, já fazia parte do universo da área externa da casa. O que nós fizemos na expografia foi subí-lo de altura. Ou seja, elevá-lo. Justamente em função de um desenho expográfico que tem tanto obras no chão, como no alto. As quatro cabeças de cimento, do artista Ramo Negro, por exemplo, que são sensacionais, tem 100 kg. É um trabalho muito masculino, de homem, no mesmo sentido usado naquela exposição Manobras Radicais, que o Paulo Heikenrof e Heloísa Buarque de Hollanda fizeram no Centro Cultural Banco do Brasil, há muitos anos. Então, você vê um trabalho como o do Ramo Negro, que tem 100kg e está no chão. Você vê um trabalho como o da Aline Motta, que está no alto. Ou mesmo a obra da Aline Bispo, que também está no alto, e outros que estão mais próximos do chão. Esse jogo é uma constante dentro da exposição. Porque a própria família tem coisas que estão decantadas, estão lá no fundo da água suja do balde, lá em baixo. E tem coisas que estão mais pra cima. Assim é a família, as hierarquias familiares. A ideia de autoridade e afeto, por exemplo, avós podem ter muita autoridade dentro de uma família. Mas eles jogam com autoridade e com afeto. Se eles tem dinheiro então, segundo uma pesquisadora do Rio de Janeiro, a Miriam Lins de Barros, que tem um livro chamado Autoridade e Afeto, onde ela investiga o papel dos avós no Rio de Janeiro entre as elites, você vai ver que eles vão jogar com tudo isso. Uma avó pobre tem um outro papel. Mas ainda assim existe uma hierarquia ali. Existe uma estratificação. Nem essa avó diz tudo, nem esses netos dizem tudo, nem esses bisnetos dizem tudo… então tem um monte de buracos no meio de uma família. Eu gosto de pensar essa ideia de romance familiar como um acumulado de coisas, de mitos, silêncios, perturbações, medo, muitas fantasias. Mas isso tudo é a família.
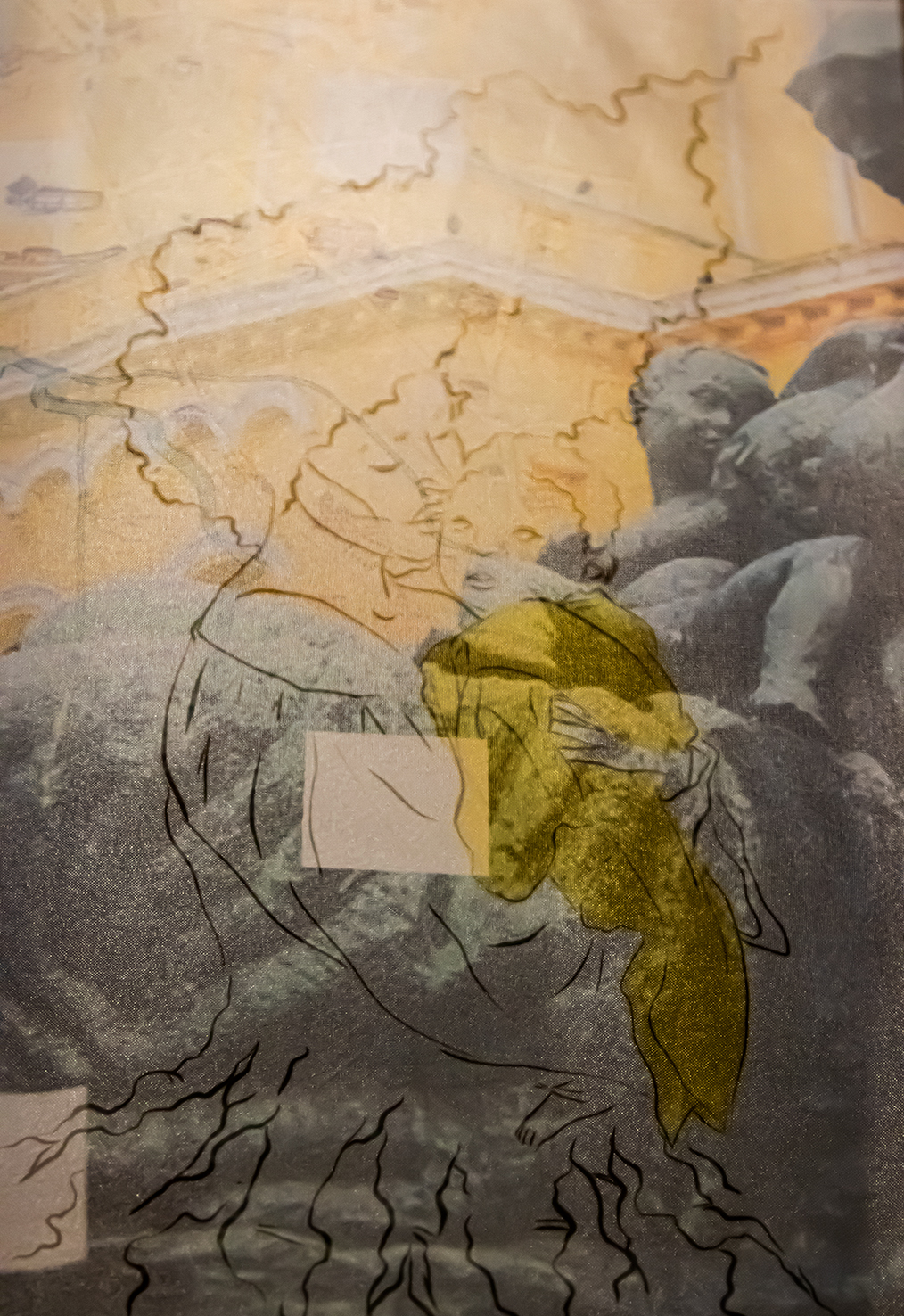
Detalhe da obra da artista Soberana Ziza, exibida na exposição Romance Familiar
Me lembro de quando a TV Cultura era interessante. Porque já não é mais há uns 10 anos pelos menos. Está cada vez mais destruída. Me lembro de ver certa vez um psicanalista falando sobre as relações entre pais e filhos, e ele disse uma coisa que achei muito interessante, que é assim: “você não tem que ser amigo do seu filho”. Mas você não é amigo dele! Você é o pai, você é a mãe! Quer dizer, não confundir essas coisas. Você pode ter uma relação de proximidade, sem dúvida. Mas não confunda as coisas, porque é preciso que o filho busque amigos no mundo, efetivamente. O pai, a mãe, são figuras, por exemplo, de autoridade. Então é a mesma coisa aqui. Tem trabalhos que dessem até o chão, como a obra da artista Síssi Fonseca, que é uma capa que ela usou no casamento dela. Aquela capa sai do teto e se espalha pelo chão. Ou o trabalho da Gardênia Lago, que é um trabalho muito bonito e que tem o nome de O cheiro dela, que diz sobre a relação dela com a avó. Ou o da própria Fernanda Lago, que é uma reflexão sobre o desfazer de uma relação afetiva, de um casamento, por exemplo. Tem ainda o trabalho do Antônio Pulquério, que é uma peça com uma série de copos, xícaras e uma espécie de uma bacia… quer dizer, isso tudo junto. E isso também é família. As vezes as coisas estão muito próximas, mas não são faladas. Tem muita coisa acumulada, muita coisa escondida. É muito difícil lidar com as revelações. É muito doído conseguir falar certas coisas, mas tá ali junto. Você tem que estabelecer uns pactos e viver junto. É como os trabalhos estão dispostos na exposição.
OM2ATO – Como é para você exercer a curadoria em artes visuais? Como é ocupar esse lugar de prestígio social, de disputa, e ainda assim conseguir preservar uma autenticidade dentro de um contexto de abundância de curadores, curadoras e artistas. Ver uma obra da arista Soberana Ziza numa galeria, cuja linguagem estética está intimamente veiculada ao espaço urbano, no caso a rua, por exemplo, é um movimento característico de um curador atento ao que vem sendo produzido ao redor e a versatilidade poética dos artistas. A mesma observação vale para o trabalho do artista Moisés Patrício que está exposição, uma obra bastante diferente ao que estamos acostumados a ver na produção dele. Enfim, fique à vontade para falar sobre esse assunto.
AAB: Você tocou em vários pontos na sua fala. E eu vou pegar o primeiro, que diz respeito a Soberana Ziza. Esses trabalhos dela que são portáteis, menores, feitos para dentro dos espaços, são muito bonitos. Esse trabalho em específico quem me apresentou foi o Tadeu Kaçula. Recentemente fizemos uma exposição, que terminou no último mês de fevereiro, no SESC Carmo, em São Paulo, chamada Margens de 22 – Presenças Populares, onde estiveram na curadoria o Tadeu Kaçula, Joice Beth e eu. Quando o Tadeu trouxe esse trabalho da Soberana Ziza, que eu não conhecia, achei lindo! E quando eu vi de perto o que era, aí eu fiquei realmente muito tocado. Eu acho que é um trabalho… e inclusive eu já comentei isso com a artista, que o trabalho dela que nos conhecemos mais é o trabalho feito na rua. E a gente sabe que os usos políticos que vão sendo feitos dos trabalhos tem mil problemas aí no meio a se pensar. Porque os grupos no poder querem capturar tudo. Por onde eles puderem capitalizar interesses, inclusive para conseguir ocultar que há hoje 37 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que tem criança sem escola, tem muita concentração de renda… O Banco Central de maneira deslavada, descarada e inescrupulosa se autonomizou do país. O que é uma coisa absurda! Só num país como o nosso, um Banco Central que deveria trabalhar para o país é autônomo em relação ao país. E ele se vê no direito de impor uma taxa de juros de quase 14% ao ano. Na prática, essa é uma política para que o país não possa se desenvolver. Então, pensando nisso tudo, podemos criar um quadro onde há novos curadores, novas curadoras, especialmente muito ligadas ao debate identitário, já que esse debate interessa. Mas como diz o curador e pesquisador de arte africana, Renato Araujo: “essa é uma onda. E essa onde negra vai passar”. Pode ser um tsunami, mas ela vai passar. Ela não vai ficar. Vai ter um momento em que o mercado também vai produzir os seus descartes. Nesse momento interessa, mas no momento que não interessar mais, o mercado vai pegar o cachorro fascista dele e soltar para morder todo mundo. Todo mundo que ontem ele aplaudia. É esse o jogo.
(…) como diz o curador e pesquisador de arte africana, Renato Araujo: “essa é uma onda. E essa onde negra vai passar”. Pode ser um tsunami, mas ela vai passar. Ela não vai ficar. Vai ter um momento em que o mercado também vai produzir os seus descartes. Nesse momento interessa, mas no momento que não interessar mais, o mercado vai pegar o cachorro fascista dele e soltar para morder todo mundo. Todo mundo que ontem ele aplaudia. É esse o jogo.
Quando comecei a produzir crítica de arte, e já faz muito tempo, acho que o meu texto mais antigo é de 2003… mas falando especialmente a partir de 2010, quando eu passei a produzir com mais regularidade para a revista O Menelick 2 Ato, por cerca de 6 anos. Daí eu me afasto e, em 2020, volto a produzir um outro texto para a O Menelick e que eu considero muito importante, intitulado Abundância e Vulnerabilidade: fomento, criação e circulação das artes negras entre 2016 e 2019, fazendo um balanço da produção plástica de artistas negros, curadores negros, gestores, críticos, colecionadores, enfim… é um texto que tenta repensar um pouco como essa produção abundante se reflete em qualidade de vida, em fuga da vulnerabilidade. É lógico que de 2020 pra cá nos temos uma cena já alterada, com mais artistas vendendo suas obras e com maior projeção. Como é o caso do Maxwell Alexandre, da Aline Motta, da Lídia Lisboa, do No Martins, do próprio Sidney Amaral, que qualquer desenho dele hoje em dia já custa uma fortuna. Então é importante que a gente tenha atenção para o que acontece no mercado, porque o mercado não vai apoiar instituições públicas de cultura. O mercado, na verdade, usa instituições públicas de cultura para promover os seus próprios interesses. O mercado não vai defender instituições públicas de cultura. Não vai defender bibliotecas de qualidade, não vai defender escolas públicas de qualidade… se deixar, o mercado toma a USP para ele! Na verdade, se deixar mesmo, eles tomam tudo! Pegam o Museu Afro Brasil pra eles, pegam o Museu da Cidade pra eles, estratificando para o alto o acesso. Então, o que eu acho, olhando para 2010, quando eu produzi o texto da Yedamaria – que inclusive eu já reeditei – principalmente para mostrar para quem está começando a fazer produção crítica, que você não nasce crítico. Como dizia Simone Bevoiur: “Você não nasce mulher, você se torna mulher”, ou o “Tornar-se Negro”, da Neusa Santos. Quer dizer, você se torna. E esse texto sobre a Yedamaria, chamado Da cor sem rancor, que é um texto que na época cumpriu o seu papel, mas que hoje eu vejo, depois de acumular muito repertório, e de escrever melhor atualmente também, o quanto ele é fraco. Mas é o que a gente tinha. Porque a gente não tinha abundância. Quer dizer, se é um texto que continua circulando ainda hoje é porque sequer a gente tem de fato abundância nesse lugar. A gente pode ter muita coisa aí em circulação, mas as coisas estão sedo estudadas efetivamente? Quer dizer, se eu quiser estudar a produção plástica da Yedamaria, eu consigo acessar o arquivo pessoal da Yedamaria? Isso é desafiador, não é uma coisa tranquila. O mercado está interessado em obra pronta. O que manda na produção de um artista é a obra pronta. O arquivo pessoal do artista não interessa. Porque cuidar de um arquivo pessoal dá muito trabalho, gasta muito. E quem é que vai cuidar? Normalmente o poder público. Mas como o poder público vai cuidar se tem instituições públicas sendo destruídas. As instituições públicas cuidadas por Organizações Sociais de Cultura, as OS’s, por exemplo, tem gente que super defende. Pra mim tinha que ser administração direta via concurso público. Se a coisa é pública, tem que ter concurso público. Por mais que haja OS’s fazendo bons trabalhos. Tem que ser administração direta.
Uma coisa que eu converso muito com os artistas, e mais recentemente conversei com a Soberana Ziza, e que me preocupa, é que por mais que eu ache que os artistas precisam vender suas obras, já que eles trabalham para isso mesmo – é que eles observem a quantidade de obras saindo do Brasil através de colecionadores estrangeiros que vem aqui com os seus dólares e seus euros e saem de baciada com um monte de obras que para eles custam menos. E com tantas obras sendo apropriadas por colecionadores particulares, cuidado! Um dia pra contarem a história da sua produção vão depender de acesso a reserva técnica. Porque está tudo guardado na reserva técnica, mas não está exposto. E se cair tudo na mão de colecionador, o colecionador faz isso. Então, se for nessa toada, é um problema pra própria construção da história das artes visuais no Brasil com participação de negros, por exemplo, que isso tudo esteja indo só para mãos de particulares porque as instituições públicas não conseguem ter recursos para comprar obras.
Visão panorâmica de uma das salas da exposição Romance Familiar
OM2ATO – A educação, no sentido de formação de um público que possa se interessar em consumir obras de artes dentro das suas possibilidades, pode ter resultados práticos para que haja um equilíbrio nessa concentração de trabalhos que evidentemente tem um forte marcador social?
AAB: A educação aí, neste caso, conta muito pouco. O que conta mesmo é o dinheiro. Como diz o provérbio de Mãe Estela de Oxóssi: “O entusiasmo é importante, mas é o dinheiro que realiza”. Pra quem acompanha a história do candomblé no Brasil, e eu acompanho, assim como vários amigos de candomblé também tem essa mesma literatura, a princípio, o que o candomblé ensina é que o dinheiro não é para ser acumulado. Dinheiro é para circular. É para movimentar a vida. Então, nós precisamos ter isso claro. As obras de arte custam dinheiro? Sim! Elas são uma das expressões do dinheiro. Por exemplo, o (artista) Leonílson, duas grandes instituições públicas de São Paulo, o Centro Cultural São Paulo e a Pinacoteca do Estado não tem uma obra sequer do Leonílson. Melhor dizendo, a Pinacoteca tem um obra feita em papel jornal. Não é ultrajante isso? Não dá vergonha? Dá vergonha, sabe porque? Porque se existisse de fato aqui direitos democráticos de acesso à memória, não poderia ser dessa maneira. Leonílson é um artista branco, um artista branco importantíssimo. No caso do Sidney Amaral, ainda bem que nós temos algumas obras que estão na Pinacoteca. Daí é mais fácil para as pessoas terem acesso. Não são muitas obras, mas é uma quantidade significativa pensando na verdadeira miséria, no verdadeiro ataque que é feito as nossas instituições públicas. É preciso que a gente fique em alerta a esse tipo de situação. Importante pontuar também que não basta ter só dinheiro. O problema é que para ter obras de arte, é preciso ter espaço também. Essas coisas caminham juntas. Então, como você vai acumular obras de arte se você não tem condições físicas de guardá-las? Isso para ter uma ideia de como o jogo é desigual. Ele é muito desigual. Se você tem uma casa própria, por exemplo, você já tem mais possibilidades de guardar. Porque é isso, também trata-se de guardar. Veja só, há colecionadores que tem depósitos, e que eles próprios muitas vezes nem sabem o que tem lá dentro. Eles não convivem com aquilo. Nós, com as poucas coisas que temos em nossas modestas coleções que, sim, tem alguma coisa de obra de arte, mas que basicamente tem livro, também não temos condições de ter dinheiro para comprar papel glassine, papel siliconado para preservar uma obra, já que você não pode deixar as coisas em plástico bolha. Quer dizer, é muito difícil porque é muito excludente. Eu acho que também falta uma participação maior dos artistas no sentido de observar esse tipo de problema. Por exemplo, já tem artista fazendo obras enormes. Daí eu pergunto: ele está fazendo essas obras enormes para quem consumir? Quem é que vai consumir uma obra de 2×2 m? Já é para um grupo muito restrito. Então, você tem aí uma série de dificuldades. E, finalmente, acho que tem uma coisa na arte contemporânea, no caso da produção plástica afrobrasileira… e eu gosto dessa categoria, apesar de ter muita gente que não, que gosta de ficar cuspindo na história do Brasil, dizendo que esse país é isso, é aquilo, é o país que mais mata, é o pior país do mundo, enfim… Como se existissem no mundo países maravilhosos, onde só tem paz, e que conquistaram sua paz do nada. Então pega seu passaporte, dá uma de Odete Roitman e vai morar num château na França! Quero ver se todo mundo tem condições de pegar um passaporte e ser aceito na Europa. O que eu quero dizer é o seguinte: é que também temos no Brasil uma produção muito domesticada, muito dócil, muito pouco crítica. Porque é muita gente querendo agradar. Há todo um jogo de querer agradar, querer ser aceito… e isso também é um pouco da expressão da miséria em que a gente vive. Tem aí uma produção generalizada, e não digo apenas dos artistas negros, que parece que não está acontecendo absolutamente nada no Brasil. Parece que e gente não teve a privatização da Eletrobrás, que é horrível pra todo mundo. O que eu sinto também é que falta coragem para fazer crítica disso, de se situar um pouco mais com a história do país. A impressão é que as elites ficam criticando a história do país, alguns artistas compram essa crítica e reproduzem muito bem essa crítica à história do país. Mas será que eu criticando tanto a história do país posso ser aceito em qualquer lugar? Porque ninguém quer ir morar no continente africano, as pessoas querem morar na Europa, nos Estados Unidos, exatamente no próprio berço do imperialismo. É interessante também ver uma passividade, um alienamento total ao que acontece no país, a quantidade de gente passando fome, sendo ultrajada constantemente, um país cheio de injustiça e muito apoio, um apoio muito fácil a posturas excludentes da elite.
(…) também temos no Brasil uma produção muito domesticada, muito dócil, muito pouco crítica. Porque é muita gente querendo agradar. Há todo um jogo de querer agradar, querer ser aceito… e isso também é um pouco da expressão da miséria em que a gente vive.
Eu acho assim, fazer curadoria…. eu quero fazer mais porque eu gosto dos trabalhos de arte. Mas a minha preocupação é acervo público. Tem que ter acervo público, temos que ter assegurado que as obras fiquem no Brasil, que elas são nossas. Que os grandes colecionadores paguem imposto, e que façam, inclusive, doações para instituições públicas. Sabemos que a gente só tem instituições públicas com algumas coisas relevantes porque aquilo que um dia foi privado, depois foi para uma instituição pública. Eventualmente essas obras podem até constituir um museu inteiro. Como no caso do Museu Paulista, por exemplo. Aliás, o arquivo pessoal que eu estudei no doutorado – da Neri Rezende (1930-2012) – hoje pertence ao Museu Paulista. Desde 2020 esse material esta lá, após uma doação que fiz. Eu guardei essa documentação durante sete anos, só que você não tem recurso para manter aquilo. É muito difícil. Porque não basta só você ficar mantendo aquilo, é preciso dar acesso, e esse é o grande barato da coisa pública. Mas vamos lembrar né, a gente está num país que queimou o Museu Nacional, e teve um monte de gente que aplaudiu porque o museu era colonial (sic). Esse papo é uma furada, porque se trata de soberania nacional. No passado fizeram aquilo, agora nessa ideia de que o país não vale nada… se você acha que não vale nada sai do Brasil! Pega o seu passaporte e vai viver na Europa pra ver se de fato você vai ser aceito mesmo. Eles são muito aceitos aqui, mas a gente não é lá. Você pode ser muito rico em Nova Iorque e você não vai morar em determinados lugares da cidade, porque eles não admitem que um estrangeiro viva, inclusive, no mesmo bairro que eles. Não vai. Porque tem os grupos que controlam a própria geografia do lugar. Voltando para o texto de 2020 (Abundância e Vulnerabilidade: fomento, criação e circulação das artes negras entre 2016 e 2019), eu acho que hoje a gente tem mais abundância e menos vulnerabilidade. Mas também acho que a gente tem uma produção muito docilizada, muita pintura, muita figuração para atender a um mercado consumidor.

Alexandre Bispo no divã
Veja a quantidade de galerias que tem em São Paulo. O que que é isso se não concentração de renda? O que que é isso se não um efeito da desigualdade? Porque tantas galerias abrindo, e quando você olha para uma instituição como o Centro Cultural São Paulo, e você vê aquela Sala Tarsila ainda fechada. Fechada! Porque não se melhora aquilo? Porque não fazem uma intervenção, de fato, e cuidam do prédio? Porque deixar precarizar? Recentemente fui fazer um novo RG, ali na Secretaria da Fazenda, onde fica o Poupatempo, e aquele prédio lindo da história da cidade está sendo destruído. Tem plantas nascendo nas paredes do prédio. A troco de que se faz isso com um prédio histórico? Até quando vai se fazer isso com os prédios históricos? E quando você entra no prédio, você se depara com duas fotos gigantescas, monumentais, homenageando a construção do prédio. Totalmente contraditório. Não é possível que a gente não se levante quanto isso. É o nosso dinheiro, foi o dinheiro dos meus pais que pagou aquele negócio. Já que a galera gosta tanto de ancestralidade, lembrem-se: esses prédios que estão aí e que estão sendo chamados de colonial, foram pagos com o suor dos nossos antepassados também. E porque eles não estão sendo cuidados? Esse tom de denúncia é pra ver se a gente sai um pouco desse esquema tão domesticado de só se falar o que é aceito. Só se falar o que vende. E está na moda detonar a história do país. Quando as pessoas vão se levantar para defender a Petrobrás e a Eletrobrás? A Petrobrás financiou um monte de coisa ao longo da história do Brasil recente. Um monte de filme, digitalização de filme, exposição, o próprio Museu Afro Brasil… se você não sabe, o Museu Afro Brasil, fundado em 2004, foi fundado com recursos da Petrobrás. Então, não vem com esse papo. A Pretobrás é brasileira, não é de banco privado, ela pertence a nós brasileiros! E ela não deve trabalhar para acionistas de Nova Iorque, por exemplo. E eu acho que falta isso. E voltando a questão da curadoria, você faz curadoria não só de desejo, você faz com dinheiro. Então aqui, para montar a exposição Romance Familiar, houve todo um esforço de ajuda mútua. A Bárbara Ivo, produtora, a Fernanda, que cedeu o espaço e que esteve o tempo todo no apoio, a Isa Bandeira que fez a expografia, o Jonh, que fez a montagem, os artistas que emprestaram trabalhos, a Diáspora Galeria e a Galeria Aurea, que também emprestaram trabalhos. Daí eu volto ao provérbio de Mãe Estella de Oxóssi: “O entusiasmo é importante, mas é o dinheiro que realiza”. A gente precisa de dinheiro, mas dinheiro legal mesmo é o dinheiro dos impostos que a gente põe nesse estado, e esse estado tem que devolver pra gente. Eu gostaria, por exemplo, que a Pretrobrás financiasse esse projeto, financiasse catálogo. Assim como financiou o Museu Afro Brasil durante longos anos. O Museu só está aí de pé porque teve a Petrobrás. Se acabar com a Petrobrás, desculpa, metade dos sonhos de produção de cultura no Brasil vão acabar.